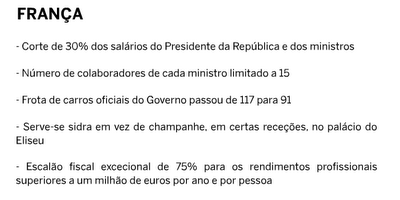Visão online, 07/10/2012
A crise não
veio com manual de instruções. Em França, combate-se o desemprego, pondo
travões aos despedimentos; em Portugal facilitam-se. Muitos países baixaram os
impostos; outros, como o nosso, aumentaram a carga fiscal. Mas nem somos nós o
exemplo acabado das más práticas nem nenhum Estado tem a estratégia perfeita. Há,
no entanto, alternativas a este sufoco. Fomos à procura delas
«Podíamos ter um défice público de 8,6 por cento.
Podíamos ter reduzido o desemprego, ao mesmo tempo que
aumentávamos os salários e os benefícios para os trabalhadores. A produtividade
subia e, num ano, a economia saltava da recessão para o crescimento. Claro que
era preciso investimento estatal e obras públicas, para impulsionar as
atividades económicas, dinheiro conseguido à custa do aumento da dívida. Ainda
assim, veríamos a luz ao fundo do túnel.
Podíamos ter feito tudo isto se fossemos o país mais rico
do mundo. Mas não nos chamamos Estados Unidos da América.
Muitos erros foram cometidos na nação de Barack Obama,
depois da crise iniciada em 2008. Por cima de tudo sempre pairou um
sentimento de injustiça por muitos dos grandes responsáveis por aquela
hecatombe mundial continuarem com a vidinha de sempre. Gastouse acima de todas
as possibilidades para amparar a queda dos gigantes financeiros, vítimas de si
próprios.
No fim, houve algo que compensou.
Seria a reposição do poder de compra dos mais pobres, com
o aumento do salário mínimo? A diminuição de impostos para as empresas? O
aumento do investimento público na saúde, na educação e nas infraestruturas? As
facilidades dadas às pequenas empresas para acederem ao crédito? Tudo o que
Portugal não fez.
Aqui, veio a receita foi a austeridade.
Cada país tem as suas realidades e as suas contas, mas
não há razão para não olharmos para fora, tentando descortinar algumas (boas)
soluções para a nossa atual crise. Temos uma dívida enorme (que chegará
aos 124% do PIB em 2013), um défice descontrolado (ou só controlado à custa de
receitas extraordinárias que se vão inventando), uma economia moribunda, mas
ainda conseguimos reagir quando nos aumentam os impostos.
SIDRA EM VEZ DE CHAMPANHE
Na França, também aumenta a carga fiscal, mas o alvo não
é bem o mesmo que em Portugal. A medida mais simbólica do Orçamento apresentado
por François Hollande é a criação de uma taxa de 75% para rendimentos
profissionais superiores a um milhão de euros anuais.
Já quem ganha acima de 150 mil euros por ano vai ter uma
taxa marginal de 45% que, juntando às contribuições para a Segurança Social e
outros impostos, acaba por chegar aos 62,2 por cento.
"Estamos muito longe de chegar a este ponto",
compara José Castro Caldas, investigador do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra. "Tributar rendimentos extraordinários tem algum
efeito orçamental. Pode, por exemplo, usar-se como instrumento de política de
redistribuição de rendimento, financiando-se dessa maneira o Rendimento Social
de Inserção e o subsídio de desemprego.
O impacto macroeconómico é importante, pois está a
atribuir-se poder de compra a uma parte da população que não o tem",
continua este doutorado em Economia.
Há um perigo, claro, o da fuga das grandes fortunas.
"Os franceses estão pouco preocupados com essa chantagem e fazem bem
porque, normalmente, tal não passa de ameaça. No entanto, uma medida dessas
pode ser acordada no seio da União Europeia, não sei porque não existe uma
harmonização fiscal", observa Castro Caldas.
Estas altas taxas têm outro efeito: carregam um simbolismo.
A classe média e os mais pobres ficam com a ideia de que não pagam
a crise sozinhos, ao contrário do que acontece em Portugal. Aliás, o
Orçamento do Estado para 2013, cozinhado pelos socialistas franceses, está
repleto de medidas simbólicas.
Exemplos: descida de 30% dos salários do Presidente da
República e dos ministros; número de colaboradores de cada ministro limitado a
15; redução da frota de carros oficiais do Governo, que passou de 117 para 91;
remuneração de dirigentes de empresas públicas limitada a um máximo de 450 mil
euros por ano... Finalmente, deixou de se servir champanhe em certas receções
no Eliseu agora bebe-se sidra.
Para o combate ao desemprego, Hollande tem duas
propostas: uma, já aprovada pelo Senado, passa pela criação de 150 mil postos
de trabalho, subsidiados pelo Estado, para jovens com poucas qualificações; a
outra consiste em aumentar o valor das indemnizações por despedimento. "A
ideia é encarecer de tal ordem os despedimentos que não compense às empresas
fazê-los", afirmou o ministro do Trabalho.
MEDIDAS ALTERNATIVAS
Na Alemanha, houve acordos sociais entre patrões e
trabalhadores para reduzir o tempo de trabalho e as horas extraordinárias, como
forma de promover o emprego.
O país de Angela Merkel, defensor primeiro da austeridade
para os Estados do Sul da Europa, respondeu à crise financeira, em
2009, reduzindo os impostos e as contribuições sociais tanto aos empregadores
como aos trabalhadores.
Já a Espanha, que, numa primeira fase, quis enfrentar
a crise com medidas expansionistas (aumento das indemnizações por
despedimento, aceleração do investimento em obras públicas e redução de
impostos para pequenas empresas que não despedissem), acabou por sucumbir aos
mercados. Agora, vemos os espanhóis na rua contra as medidas de austeridade. O
desemprego chegou aos 24,6% (cerca de 4,7 milhões de pessoas).
Nem a economia nem a banca de Espanha aguentaram a
"fuga para a frente".
Mas entre o congelamento dos salários dos funcionários
públicos (e a supressão do subsídio de Natal deste ano) e o aumento do IVA (de
18% para 21%), o Governo tenta travar a subida dos combustíveis, negociando com
as petrolíferas uma medida sem impacto orçamental mas de grande importância
para a vida do povo.
"A negociação com as farmacêuticas, para baixar os
preços dos medicamentos, teve resultados, o que mostra que, quando há vontade
política, muita coisa se pode conseguir", refere Castro Caldas.
"Em Portugal, a inação do Governo é notória. Há, de
facto, medidas pequenas que podiam apontar para um rumo", critica José
Reis, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
E enuncia: "Primeiro: reposição imediata das mais
grosseiras reduções dos rendimentos do trabalho; a economia pagá-las-á com
crescimento. Segundo: compromisso com a manutenção dessa base remuneratória por
cinco anos.
Terceiro: incentivo poderoso, através de certificados do
Tesouro garantidos, à poupança dos que podem poupar, em vez da submissão
patética do financiamento do Estado aos 'mercados'. Quarta: aposta deliberada
em soluções de consumo, de mobilidade, de produção e trabalho, de qualificação
das pessoas e de crédito sustentáveis, equilibradas e frugais, feita através de
uma política urbana e de pequenos centros no espaço rural, o que implica um
contrato radicalmente novo com as autarquias (esta é a única 'austeridade' que
faz sentido). Quinta: intensa renovação da capacidade exportadora, através de
acordos positivos, baseados na facilitação da ação empresarial e num
compromisso com o emprego e os trabalhadores. Sexta: negociação, no plano
europeu, de um programa de investimentos públicos politicamente assumido como
um compromisso com a Europa, baseado na coesão social e na inclusão do povo e
na salvaguarda do seu direito a uma vida digna."
O PROBLEMA DAS CAPELINHAS
O combate à crise não se limita, no entanto, a
medidas que impliquem gastar dinheiro. O corte na despesa do Estado, nas
"gorduras desnecessárias" era, aliás, a grande promessa de Pedro
Passos Coelho.
No final de maio de 2010, o economista João Cantiga
Esteves, professor de Finanças no ISEG, deu uma entrevista à VISÃO na qual
contabilizava em cerca de 14 mil o total de entidades que recebia, direta e
indiretamente, dinheiros públicos.
E concluía que "o Estado não sabe o que tem, nem
onde gasta". Passados mais de dois anos, com um novo Governo em exercício
e com o País intervencionado pela troika, perguntámos-lhe o que mudou. A
resposta foi uma monumental gargalhada. "É inquietante perceber o quão
difícil é atuar energicamente numa área onde é imperativo fazê-lo. E o problema
mantém-se: o Estado continua a não saber onde gasta, logo, continua a não saber
onde pode poupar. Tirando, agora, estas iniciativas, nomeadamente na área das
fundações, mas com resultados muito limitados, e pouco mais, já passou um ano e
meio desta governação e nada..." Na execução orçamental de setembro, o
resultado está à vista: a despesa efetiva do subsetor Estado cresceu 1,1 por
cento.
Mesmo com os grandes cortes nas despesas com o pessoal
(redução de salários e subsídios). "Há uma dificuldade enormíssima em ir
ao fundo, ao detalhe, ao pormenor. O Governo centra-se nos grandes números,
pois é muito mais fácil aumentar IVA, IRS, etc. Sempre foi assim, mas não pode
continuar a ser. Tem de se poupar nos detalhes, um milhão aqui, outro
ali", insiste Cantiga Esteves, que avança uma explicação para a inação
governamental: "Tudo isto mexe com muitos interesses instalados, que vão
do pequeno ao médio e ao grande. Há uma resistência fortíssima à mudança e
ninguém quer sair da sua zona de conforto." A presença da troika em
Portugal, considera o economista, não dá garantias de que se altere este estado
de coisas.
"A troika concentra-se apenas nos grandes números e
não se quer meter nestas coisas, que são nossas. É imperativo que o Governo
lance publicamente o desafio aos ministérios, secretarias de Estado,
direções-gerais, câmaras municipais, governos regionais, institutos públicos,
fundações, etc., para apresentarem, no prazo de duas a três semanas, as suas
propostas de redução de despesa. E, com as propostas nas mãos, vincular essas
entidades.
Com isso percebe-se quem está disponível para contribuir
para a solução do problema. A alternativa é explicar muito bem aos portugueses
porque é que cada uma das capelinhas é intocável." Para João Cantiga
Esteves, "o que é exigido aos dirigentes, em tempos
de crise como o que vivemos, é que governem sem dinheiro".
"Isso é que é habilidade. Governar com dinheiro é fácil. Apliquem-se!"
DUAS DROGAS
Mas chegamos sempre ao mesmo ponto: a economia cresce sem
dinheiro, sem o empurrão do investimento público? E onde vamos nós buscar os
fundos para investir se já temos uma dívida gigantesca? "Não é pelo afluxo
de investimento estrangeiro. Este, ao adquirir ativos portugueses, não cria
emprego. As privatizações podem é criar mais desemprego", responde José
Castro Caldas.
Para este economista, tendo em conta que "quase todo
o défice orçamental é resultado dos juros pagos pela dívida", não há
"outra possibilidade de viragem sem o alívio da dívida". Como?
"A reestruturação da dívida pública vai acontecer mais tarde ou mais cedo.
Queremos fazê-la enquanto há portugueses vivos ou esperamos pela iniciativa dos
credores, quando o País estiver destroçado?", desafia. Reestruturar a
dívida significa não pagá-la, pelo menos em parte, para libertar recursos para
o investimento.
Mas, na Grécia, a reestruturação da dívida não parece
estar a salvar o país. "Foi insuficiente. O Banco Central Europeu e os
credores europeus foram poupados", justifica Castro Caldas. E acrescenta:
"Sabemos que o que está a ser feito só pode piorar as coisas. Mas a
alternativa também não é nem fácil nem milagrosa.
Nem indolor." Pode é ser mais rápida. O exemplo
acabado é a Islândia. Em 2009, tinha uma recessão de -6,6% do PIB. Em 2011,
estava com um crescimento de 2,6 por cento.
O que aconteceu lá? O povo, em referendo, disse,
simplesmente, que não pagava as dívidas dos bancos (muito diferente da atitude
da Irlanda e da Espanha). "Os bancos entraram em falência e o Estado
interveio minimamente para salvar os depósitos dos residentes. É possível, num
caso de falência bancária, tomar medidas para manter o sistema de pagamentos em
funcionamento e garantir o crédito", explica o economista. A Islândia
representou uma espécie de rebelião contra os mercados, um símbolo de um povo
que já pouco tinha a perder.
Em Portugal, vai-se perdendo qualquer coisa. "Viu-se
que, punindo rudemente os rendimentos do trabalho, se destrói a economia por
falta de procura, se gera desemprego maciço, se leva empresas à falência, se
arruína recursos...", afirma José Reis.
Ainda na semana passada, o Nobel da Economia Paul Krugman
escreveu: "O que a Grande Depressão ensinou aos políticos, da pior forma,
foi que dinheiro curto e austeridade orçamental eram realmente más ideias, em
face de uma economia profundamente deprimida. Mas tudo isto foi esquecido,
exceto pelos historiadores de Economia. A dívida é uma droga. Mas a austeridade
também o é."»